Abram alas para as orquídeas


Tapete verde para o desfile furtacor da mais bela “vedete” do pedaço, cuja família é tão deslumbrante quanto numerosa: calcula-se que existam cerca de 50 mil espécies de orquídeas a colorir o mundo, entre as encontradas na natureza e as resultantes de cruzamentos em laboratórios. Queridinhas em todas as línguas e renomeadas pela botânica na medida em que se metamorfoseiam, elas roubam olhares nos cinco continentes, florindo sem parar e exibindo uma miríade de formas e cores.
Sites especializados apontam: o Brasil é um dos países com a maior variedade de orquídeas, ostentando a marca de mais de 3.500 espécies. A maioria pertence ao grupo das epífitas, um tipo que se desenvolve ou é incrustada nos troncos das árvores, buscando sombra e umidade na medida, além de nutrientes absorvidos da própria natureza. São estas que abundam no campus da Universidade de Fortaleza, instituição da Fundaçao Edson Queiroz, segundo o fiscal de jardinagem Santiago Silva Lima, que há 15 anos, e ainda sob orientação do ex-chanceler Airton Queiroz (1946-2017), aprendeu a receber e fixar, no arvoredo de casca mais grossa, a chamada Cattleya Labiata, espécie nativa do Ceará que exibe uma flor em infinitos tons de lilás.
“Lembro que Dr. Airton mandava entregar na Unifor aqueles surrões cheios de orquídeas, que vinham das nossas serras de Itapipoca e Guaramiranga. Ele comprava dos nativos de lá e era para nós, jardineiros, distribuirmos dois sacos de palha daqueles em cada bloco, fixando com arame as plantas no alto das árvores. Primeiro a gente plantava na casca de coco e depois fixava bem firme entre os galhos, porque não podia ficar balançando. Ali, depois de totalmente fixa, a gente borrifava adubo líquido, um preparado que já vinha pronto, com os nutrientes que elas precisavam. Assim é que as orquídeas foram crescendo e se alastrando naturalmente, criando brotos e florindo, a ponto de eu não me atrever a dizer a quantidade exata de orquídeas hoje espalhadas pelos jardins”, relata Santiago.
Impossível de quantificar, mas facilmente identificável, a Cattleya Labiata que vive nos altos não impera absoluta no campus. “Tem uma orquídea terrestre aqui que é a Rabo de Tatu, mas são poucas, concentradas ali na área do bloco N ao S. E deve haver outras espécies além destas duas, porque isso aqui é um mundo que só o dr. Airton conhecia a fundo, mas eu realmente não tenho conhecimento. Aprendi muito com os especialistas da Associação de Orquidários do Ceará, que ele trazia para a Unifor, justamente para treinar os jardineiros: o tempo certo de adubação, o combate das pragas, as podas, os transplantes, a época e a duração da floração, tudo isso absorvi olhando e fazendo”, pontua o jardineiro fiel.
O ambiente vivo que abraça as orquídeas no campus é o ideal para que elas saltem aos olhos e também se reproduzam pela ação dos ventos ou mesmo dos pássaros. Assim entende a professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifor, arquiteta e paisagista Fernanda Rocha: “sou atenta observadora da rara e espetacular beleza das orquídeas. Nas inúmeras vezes em que caminhei entre os blocos da Universidade, imersa naquele mar verdejante, que nos abriga dos rigores do nosso clima, me deparar com o colorido de uma delicada orquídea a contrastar com o verde do entorno sempre foi algo como um susto bom, um imã. Me via atraída pelas cores fortes, os tons de roxo e magenta incidiam como uma luz sobre meus olhos. Parava, fotografava, buscava sentir o perfume e reparar nos detalhes de suas flores exóticas… Até que em 2009, quando liderei um trabalho de pesquisa piloto para identificação de plantas no quadrilátero em torno da Reitoria, fui surpreendida: além das Cattleyas, descobri uma terrícola nativa, plantada no chão, a Oeceoclades maculata. Era um único exemplar da flor meio rósea, mas nem sei se ainda está lá”.
A observadora apaixonada sabe mais do que apenas contemplar as orquídeas em estado de êxtase. “As epífitas presentes na Unifor foram cuidadosamente colocadas ali, então estas não dependem nem se alimentam das árvores, apenas se abrigam do sol, porque apreciam um pouquinho de luz, aguardando a rega que os jardineiros, já que também precisam de água, mas não podem ficar com as raízes encharcadas. Por isso elas estão sobre casca de coco, o que permite sua aeração. São como um bebê, que devem banhar-se de um solzinho fraco e, se cultivadas em casa, estar em vasos mais porosos, como os de barro, para evitar encharcamento”, indica Fernanda, ela própria dona de uma Cattleya leopoldi que hoje repousa na Casa de Vegetação do curso de Arquitetura da Unifor para renovados cuidados e mimos.
Particularmente e bem no íntimo, orquídeas também lhe perfumaram as amizades. “Se antes da pandemia elas me sensibilizavam por sua extrema beleza, hoje ainda me trazem à memória uma flor querida, falecida recentemente, a Bia, Beatriz Perlingeiro, que também passou pelos jardins da Universidade em suas andanças, durante a graduação em Belas Artes e nas exposições nas quais colaborou. Ela as amava e tinha uma bela coleção delas ornamentando os jardins e até os banheiros da sua Galeria Multiarte… Por isso é que em cada orquídea posso reencontrar a mão e o coração dela, que as tratava tão bem”, suspira Fernanda.
A primeira lhe chegou por impulso, sem qualquer explicação ou planejamento prévio. Foi simplesmente amor à primeira vista. O psicólogo Rafael Barbosa, hoje cursando Mestrado em Psicologia na Universidade de Fortaleza, atravessava a Praça das Flores quando se viu arrebatado diante da beleza irresistível da Cattleya labiata. Parou e sem pensar duas vezes arrematou a orquídea que lhe faria recorrer à internet para entender de fato o que havia levado para casa. Descobriu ser uma planta exótica e com fama de difícil cultivo. Que a sua espécie precisaria de sombra, mas existiam aquelas afeitas ao sol pleno. Que no Ceará elas podem florescer o ano inteiro, a depender dos cuidados. E assim deu a ela lugar de honra na janela do quarto.
Aos poucos, desejou mais do mesmo estranho amor. “Quanto mais eu lia sobre as várias espécies, cores e formatos das orquídeas, mais eu ia comprando. Chegou uma hora que a janela ficou pequena e o quarto precisou ser adaptado para receber tantas delas. Para não correr o risco de perdê-las cheguei a investir até em luz artificial e aprender sobre como calcular a quantidade e distância necessárias”, relembra Rafael.
Ano a ano, os vasos foram exigindo mais espaço. Até que em 2018 o já assumido orquidófilo achou por bem se mudar. “Encontrei um apartamento no térreo de um prédio de poucos andares e vi que ali era perfeito para organizar meu orquidário, já que havia um terraço até então sem uso e contíguo ao meu quarto. A essa altura, minha atual coleção de 60 orquídeas e cerca de 30 espécies diferentes já avançava a olhos vistos e acho que tanto o proprietário quanto a vizinhança próxima aprovaram aquele perfume que se espalhou pelo ambiente. Digo isso porque todos passaram a vir olhar de perto para saber mais e dar um cheiro em minhas companheiras, já que não se trata de uma área privada”, narra.
Para Rafael, suas orquídeas e o cultivo delas, iniciado como hobbie, não só geram empatia como têm flagrante efeito terapêutico – “eu cuido delas e elas cuidam de mim, da minha saúde mental e espiritualidade”. Tanto assim que, diante do confinamento social exigido pela pandemia, foi a partir da experiência de convívio e bem-estar junto às plantas que ele redesenhou o seu projeto de mestrado.
“Como não iria poder fazer trabalho de campo resolvi pesquisar a jardinagem como estratégia de enfrentamento da Covid-19, já que, além de mim, encontrei nas redes e fora dela muitas pessoas buscando e se interessando por isso. Os jardins se tornaram espaços redutores de estresse e isso tem fundamentação acadêmica: é amparada na biofilia que sobretudo a Arquitetura vai apostar na vegetação e no uso de materiais vindos da natureza, como madeira ou pedra, para promover a qualidade de vida através de ambientes restauradores”, ressalta o mestrando integrante do Laboratório de Estudo das Relações Humano-Ambientais (LERHA) e que se especializa justamente em Psicologia Ambiental.
Para o bem das companheiras em flor que só fazem o bem a ele vale tudo, inclusive só regá-las com água adicionada de sais, já que a que vem da torneira é mais alcalinizada, comprometendo o desenvolvimento de determinadas espécies. Uma tela de proteção própria para parcial sombreamento instalada no terraço também evita que a luz solar incida diretamente sobre as plantas, queimando-as. Assim ensina o psicólogo que desde o início da prática de jardinagem em casa também decidiu não comprar aquelas orquídeas que sofreram a pressão da mão humana para adquirir certas características relacionadas à forma e cor.
“Sempre opto pelas nativas que vêm da natureza, as mais perfumadas e aquelas que posso identificar a origem, porque já há muitas orquídeas nativas do Ceará que caminham para a extinção”, alerta Rafael, o orquidófilo que também se tornou fotógrafo profissional de suas próprias orquídeas, a ponto de criar um perfil no Instagram para elas, algo que nunca se interessou em fazer para si. “Elas são mais fotogênicas, sem dúvida”, finaliza, rindo-se.
No campus da Unifor, as orquídeas convivem com a comunidade acadêmica entre “jardins” que se bifurcam: enroscadas aos troncos das árvores, embelezam e perfumam o campus; representadas em livros e obras de arte que saltam das bibliotecas e integram o acervo da Fundação Edson Queiroz, inspiram o pensamento ético e estético que está por trás da intrincada relação entre natureza e cultura.
No meio do caminho da exposição “Águas de Março”, individual do artista Sérgio Helle, em cartaz no Espaço Cultural Unifor, tem uma orquídea. Tem uma orquídea no meio do caminho de folhas mortas e dejetos da natureza que, estilizados, chamam atenção para as múltiplas formas de vida reconfiguradas mesmo à sombra da morte, leitmotiv do conjunto de obras expostas e subdivididas em duas mostras: Paradisus e Resurgentis.
A orquídea que veio banhar-se em “Águas de Março”, impressa sobre papel, habita a biblioteca de Acervos Especiais da Unifor e foi apanhada do livro-catálogo da ilustradora botânica Margaret Mee (1909-1988), pesquisadora inglesa que chegou ao Brasil em 1952 e só à Amazônia fez 15 expedições, deixando vasto registro e documentação, entre ciência e arte, da flora brasileira.
“Como objeto de arte, o livro de Margaret Mee dialoga com minhas infogravuras, pinturas e instalações porque ela também encontra na natureza sua forma de expressão artística. Mee fazia seus desenhos no local, ia para a floresta com lápis e aquarela para pintar in loco. Era uma observadora da floresta e eu também venho me tornando um artista atento aos ciclos de vida e morte em nossos ambientes naturais. Comecei levando para o ateliê uma folha de torém caída no chão. Achei bonito o desenho que a planta ressecada e retorcida compôs naturalmente. A partir dali não deixei mais de apanhar restos de matéria orgânica para recriar suas formas e cores artisticamente”, recupera Helle.
Há dois anos e meio, assim como Margaret Mee, que desbravou a biodiversidade amazônica, o artista nascido no Cariri cearense também embarcou para dez dias de residência artística na Amazônia. Lá, depois de ouvir os sons da floresta dia e noite, navegando por entre rios ou pisando fundo na serapilheira, chão onde plantas em decomposição fornecem nutrientes para o nascimento de outras, Helle encontrou a seiva para nutrir uma obra in progress que hoje ocupa o Espaço Cultural da Unifor.
“Vi de perto a destruição da floresta, aquela clareira criminosamente aberta no meio da mata abundante, algo insano, sem razão de ser, porque tudo aquilo é muito mais produtivo e lucrativo se estiver de pé… Por outro lado, perceber a força da natureza foi ainda mais impactante. Quando você enxerga um cogumelo renascendo no meio da terra arrasada ou descobre que justo a folha do torém é a primeira que inicia o reflorestamento de uma área devastada a imaginação criativa respira fundo e se retroalimenta também”, reforça.
Intimamente reflorestado, o artista também revolveu memórias, voltando à infância para perder o medo das pedras cariris, aquelas que guardavam fósseis de plantas e insetos mortos há séculos. Ressignificadas e polidas, elas agora estão em “Águas de Março” como um elogio aos modos de resistência e enfrentamento da morte, assim como o tronco de árvore pirografado com símbolos genocidas – mãozinha imitando arma, o número 17, o pau de arara usado na Ditadura Militar – diz sobre o ato de extirpar, a ferro e a fogo, todo o ato de embrutecimento ou negação da vida.
Em tempos de pandemia, o que se planta na sala de exposição também quer colher esperança. Como a canção de Tom Jobim, “Àguas de Março” é promessa de vida em meio às existências devastadas. Para a curadora Izabel Gurgel, o que Sérgio Helle apanha do chão e metamorfoseia é a nossa casa comum, tão carente de zelo e cuidado, mas sempre pronta a acolher e curar. Em jogo, acrescenta, estão ainda as múltiplas formas de observação do mundo, as infinitas possibilidades de convivência entre tudo o que é vivo e se transforma, as insuspeitadas belezas que pulsam para além das aparências.
“Sérgio Helle guarda cascas, troncos de árvores, folhas, flores, sementes. Com isso vem compondo imagens em defesa da Terra como um corpo vivo, único, irrepetível, a variar, a mudar, em seus ciclos de vida – morte – vida. Nascer, renascer, nascer de outro modo. Somos, nós humanos, uma das manifestações possíveis. Há outros modos, um bocado deles, invisíveis para a maioria de nós. O chão de onde brota um jardim, os dias e as noites nas matas, a miríade de possibilidades de uma floresta, o modo como esperamos a chuva, uma biblioteca onde se colhem ideias, orquídeas e diálogos, tudo isso é um corpo vivo a vibrar”, reflete Izabel.
Por G1

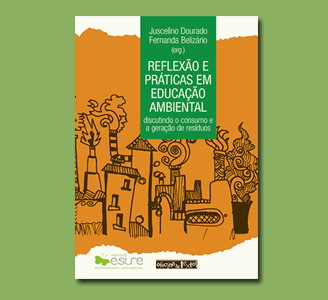
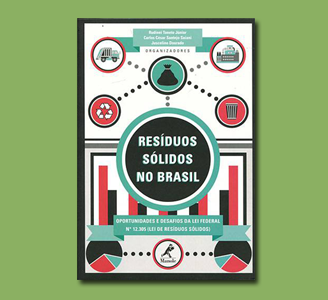
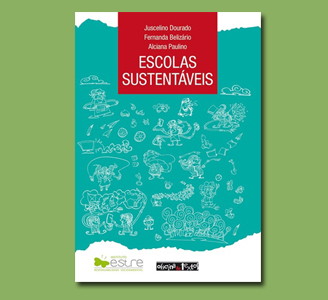



0 Comentários